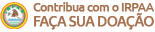Editorial
Cento e vinte anos de solidão
Cento e vinte anos de solidão
Belo Monte renasce a cada Romaria para ensinar ao povo brasileiro que é preciso ter fé e coragem
Quatro anos depois, diante da iminente invasão do exército brasileiro, o Conselheiro Antônio Vicente Mendes Maciel havia de recordar aquela manhã remota em que chegou acompanhado de seus mais fiéis peregrinos. Canudos era então um pequeno vilarejo de cinquenta casebres de taipa, construídos à margem de um rio de águas diáfanas e intermitentes que se precipitavam ao redor de uma velha capela, de uma fazenda decrépita e de alguns pequenos pontos comerciais. Nem o mais otimista andante da caravana sonharia que aquele lugar seria um dos maiores núcleos populacionais do Nordeste brasileiro. É provável que só soubesse disso o próprio Conselheiro¹.
Tanto assim que, ao se assentar naquele chão pedregoso e fértil, cercado de umbuzeiros, macambiras, xiquexiques, faveleiras, bromélias, catingueiras, caroás e coroas de frade, ele logo tratou de renomear a localidade. Ao invés do canudo-de-pito, uma planta muito usada para fabricar cachimbo e que emprestava o nome ao lugar, o Conselheiro palmilhou a beleza das elevações geográficas e, apontando o dedo para o mundo denso e profundo que se anunciava no horizonte sertanejo, chamou aquilo tudo de Belo Monte.
A notícia se espalhou pelos mais recônditos povoamentos da região. Mais do que os 26 meses de travessia de José Arcadio Buendía em busca de uma saída para o mar, Antônio Conselheiro acumulara 20 anos de peregrinação, catando pedras para restaurar e construir igrejas, açudes e cemitérios, colecionando prédicas, perseguições e pelejas, espalhando conselhos, afilhados e esperanças. Era chegada a hora de fundar “a aldeia mais organizada e laboriosa que qualquer das conhecidas até então pelos seus 300 habitantes”². Um território livre da extorsão do Estado e da exploração dos latifundiários. Uma comunidade solidária, que planta, colhe, cria, edifica e reza. Era chegada a hora de uma nova experiência sobre a terra.
Afinal, a recém-proclamada República, que completa 128 anos no próximo dia 15, parecia pior que a encomenda. A impressão é que, no Brasil, os regimes políticos mudam para manter privilégios, na exata medida de todos os golpes de Estado da nossa história: reacionários, conservadores e antipopulares. Trocam-se as peças do tabuleiro para retroagir ou, quando muito, ficar tudo como dantes no quartel de Abrantes. Para os peões que se moviam em revoada a cada estiagem prolongada, a República que não garantia o mínimo direito à dignidade passou a fazer absurdas exigências fiscais. Autorizou os municípios a editar a cobrança de impostos, ampliando “a roça de milho cercada de formiga”³, como o Conselheiro se referia à carestia. Os preços dos alimentos subiram 118% entre 1891 e 1894, acompanhando a maior inflação monetária que se tinha notícia. A crise econômica assolava o país e era chegada a hora de reagir.
Foi em um movimentado dia de feira na cidade de Bom Conselho (atual Cícero Dantas) que aconteceu a grande reação popular contra o ajuste fiscal republicano. Insubmissos à extorsão, os conselheiristas arrancaram os editais de cobrança de impostos e fizeram uma fogueira em praça pública. Outras manifestações se espalharam pelo estado e, para rechaçá-las, um destacamento da polícia baiana formado por cerca de 30 soldados foi enviado com a missão de prender o Conselheiro e dispersar os revoltosos. O confronto aconteceu no povoado de Masseté, pertencente ao município de Quijingue-BA. Liderados por João Abade, os sertanejos repeliram a polícia e, duas semanas depois, chegaram à “terra que ninguém lhes havia prometido”⁴.
Conta-se que pisaram o chão canudense na manhã triunfal do dia 13 de junho, sob uma revoada de foguetes que festejava Santo Antônio, o padroeiro da comunidade. Convencidos das prodigiosas perspectivas de Belo Monte e confiantes na liderança de Antônio Conselheiro, camponeses, artífices e até fazendeiros, dos mais distintos grupos étnicos e estratos sociais, aportaram no arraial. Ali reunidos, demonstravam que o sertanejo é, antes de tudo, diverso. E a variedade extravasava nos pomares e criações, nas redes e utensílios fabricados, nos celeiros fartos e no caixa comum para os doentes e necessitados. A autogestão camponesa combinada à disciplina espiritual fazia as águas do Rio Vaza-Barris se transmutarem em leite e mel, banhando os barrancos de cuscuz.
A nova “Canaã” crescia com seus casebres de barro que mais lembravam as tradicionais comunidades de fundos e fechos de pastos do que as vilas simétricas da urbanização colonial e, na mesma proporção, aumentava também o incômodo dos coronéis pela migração da mão de obra, antes abundante. O barão de Jeremoabo, maior latifundiário baiano daquela época, cujo nome de batismo era Cícero Dantas Martins (sim, o mesmo que hoje nomeia o antigo Bom Conselho), se queixava do “aluvião de famílias que subiam para Canudos”⁵. Missivista inveterado, foi ele quem mais leu as queixas dos amigos, correligionários e fazendeiros incomodados pela presença do “povo 13 de maio”⁶ no novo Quilombo brasileiro. Belo Monte ameaçava a opressão sem limites sobre o campesinato despossuído, constituído da grande massa de sem terras. De quebra, escapava à gestão política das oligarquias regionais fortalecidas pelo federalismo republicano e, numa audácia sem precedentes, substituía a moeda circulante por um vale amplamente aceito nas comunidades. Era mais do que uma ameaça, era assustador!
Aproveitando o caráter religioso do arraial, o governador da Bahia, Rodrigues Lima, fez uma jogada genial: movimentou o arcebispo dom Jerônimo Tomé. Pediu a ele para organizar uma missão que convencesse os devotos a desertarem dali. Era maio de 1895, um mês antes do segundo aniversário de Belo Monte, quando o frade João Evangelista do Monte Marciano, cansado de ser questionado pela audiência crítica à sua postura doutrinária, explica a Antônio Conselheiro: “Se é católico, deve considerar que a Igreja condena as revoltas, e, aceitando todas as formas de governo, ensina que o poderes constituídos regem os povos, em nome de Deus”⁷. As pregações do missionário capuchinho em nada alteraram a fluidez do Vaza-Barris. Mas revelaram uma dolorosa constatação: para destruir aquilo seria preciso mexer em mais de uma peça. Seria preciso mobilizar todo o tabuleiro.
E, para isso, seria preciso um bom pretexto. A arapuca não poderia ser mais emblemática. Envolveu um dos coronéis que mantinha relações comerciais com Belo Monte e que, por sua condição aristocrática, sabia exatamente a sua posição na hora do xeque-mate. Se seu prenome lembrava o frade italiano, João Evangelista, seu sobrenome não deixava dúvidas: Pereira e Melo, duas das famílias mais tradicionais de Juazeiro-BA. Comerciante, fazendeiro e político, o coronel Janjão devia a Antônio Conselheiro um carregamento de madeira que seria utilizada na finalização da Igreja Nova do Bom Jesus. Embora já estivesse paga, a mercadoria não foi entregue, segundo a tradição, por falta de quem levasse a encomenda. Conselheiro disse que mandava buscar.
A partir daí, entra na jogada o dono do xadrez: o jovem e promissor juiz de Direito recém-nomeado para Juazeiro, Arlindo Leoni. Coincidências ou não, era o mesmo representante da lei que atuava em Bom Conselho quando os conselheiristas fizeram a famigerada fogueira com os editais de impostos. Convicto de seu dever cívico, republicano e genealógico, o juiz não precisou reunir provas de que Juazeiro seria invadida pelo “perverso Antônio Conselheiro”⁸. Telegrafou para o governador da Bahia, o recém-empossado vizinho casanovense Conselheiro Luís Viana, e, em tom alarmista, selou o futuro do arraial. Depois de duas expedições estaduais fracassadas, Viana solicita a ajuda do Governo Federal, dirigido naquele momento por um representante das oligarquias cafeeiras do sudeste, o paulista Prudente de Morais. Era hora de o Exército selar o grande acordo nacional.
Os jornais, mais eficientes veículos de comunicação de massa no Brasil do final do século 19, cumpriram o papel que até hoje é reservado à imprensa hegemônica: construíram a unidade discursiva a serviço dos interesses do patronato. Para criminalizar e negar a importância social da experiência, chamaram os belomonteses de monstros, bandidos, fanáticos, ignorantes, desordeiros e outros tantos rótulos ainda em voga, transmutando os sertanejos em inimigos da pátria e os militares em heróis. Para insuflar o combate ao arraial, convenceram a opinião pública de que “os fanáticos do Conselheiro, com armamento moderníssimo e abundante munição, comandados pelo conde d’Eu, pretendiam restaurar a monarquia”⁹, novelizando a vida na eterna luta entre o bem e o mal.
“As vozes falando em nome do bom senso”, afirma Walnice Nogueira Galvão, “podiam ser contadas nos dedos das mãos”. Não por acaso, a necessidade atual de recorrer a periódicos estrangeiros “para uma apreciação equilibrada dos eventos da guerra e sua inserção no processo histórico geral do país”. O resultado foi lastimoso: “Com uma mobilização geral da opinião feita pelos jornais, acompanhando as operações bélicas, a Guerra de Canudos foi afinal ganha, o arraial arrasado a dinamite e querosene juntamente com quem não quis se render, os prisioneiros todos degolados, restando apenas algumas poucas centenas de mulheres e crianças que foram dadas de presente ou vendidas. A república estava salva”¹⁰. A lição também é lastimosa: no calor da hora do jornalismo nosso de cada dia há muito mais ficção do que julga a nossa vã crença na verdade dos fatos.
Que o diga o jornalista míope do livro “A Guerra do Fim do Mundo”, de Mario Vargas Llosa. Inspirado em Euclides da Cunha, o personagem do escritor peruano é uma triste metáfora da atividade jornalística. Com seus óculos quebrados durante a debandada da terceira expedição, chefiada pelo corta-cabeças Moreira César, o jornalista míope confessa que não viu nada, a não ser sombras, vultos e fantasmas. “Mas, embora não tenha visto, senti, ouvi, apalpei, cheirei as coisas que aconteceram lá. E o resto, adivinhei”. Interlocutor do barão de Canabrava (inspirado no barão de Jeremoabo), o jornalista explicaria páginas à frente. “Os correspondentes podiam ver mas não viam. Só viram aquilo que foram ver. Mesmo que não estivesse ali”¹¹. Mais tarde, Vargas Llosa diria que umas das coisas que mais o fascinou, “ao investigar a história da Guerra de Canudos, foi ver como a imprensa desempenhou um papel tão importante na deformação da realidade”¹².
Belo Monte rascunhou a tão eficaz e usual ação combinada entre a elite econômica, a mídia e o aparato jurídico-policial do Estado. Os poderes instituídos só não esperavam que a resistência fosse tão visceral. Padrinho de tantas crianças desde o início da sua peregrinação, Conselheiro contou com o reforço de muitos afilhados vindos de Sergipe e de todo o noroeste e litoral norte da Bahia. Milhares de camponeses, negros, povos tradicionais e soldados desertores em defesa da própria sobrevivência depositaram o seu sangue naquele chão¹³. Até mesmo o representante de outro famoso padrinho sertanejo, o Padre Cícero, teria presenciado um dos conflitos, um ano após o atentado que quase tira a vida do padre que, naquele momento de reboliço da história eclesiástica brasileira, havia desafiado as ordens da Diocese e do Vaticano.
Segundo Honório Vilanova¹⁴, antes da primeira expedição chegar à cidade de Uauá-BA, palco da batalha inaugural, ocorrida no dia 21 de novembro de 1896, o padim Ciço enviou um sujeito de nome Herculano. Ao chegar no arraial, levaram-no à presença de Antônio Conselheiro, que logo lhe perguntou: “Que mandou dizer o Padre Cícero?”. “Mandou dizer que está esperando uma guerra”, respondeu o rapaz. “Pois quando voltar ao Juazeiro, diga ao padre que o fogo do inferno vai cercar este lugar. Haverá quatro fogos: os três primeiros são meus, o quarto eu entrego nas mãos do Bom Jesus. A minha guerra é federal, a dele será estadual”, profetizou, tal qual o cigano Melquíades. Ao saber que os soldados já estavam a caminho de Belo Monte, Herculano quis ir embora. Conselheiro pediu que ele assistisse ao primeiro fogo para contar ao Padre Cícero. “Conta tudo o que viu, sem faltar uma palavra”.
Durante o último fogo sobre o arraial, no segundo semestre de 1897, o maior medo das autoridades era que o Padre Cícero levasse seus seguidores para combater em Belo Monte. Naqueles idos, ele estava refugiado no sertão pernambucano, em Salgueiro, após ter sido intimado a cumprir o decreto da Congregação do Santo Ofício que o expulsou de Juazeiro do Norte, já que ele se negava a refutar o milagre da hóstia que vertera sangue na boca da beata Maria de Araújo. Certamente, os “exércitos” dos mais notórios seguidores da prática pastoral do Padre Ibiapina seriam imbatíveis, como são em termos de religiosidade popular no semiárido nordestino. Mas o Padre Cícero, como destaca seu biógrafo Lira Neto, estava mais interessado em garantir a sua ameaçada sobrevivência como líder espiritual, “na engenhosa composição de predicados aparentemente antagônicos – a dedicação pastoral aos mais humildes e o diálogo estratégico com os poderosos e abastados”¹⁵.
Entretanto, quando veio a sua “guerra estadual”, em 1914, o Padre Cícero e seu fiel escudeiro Floro Bartolomeu recorreram a um famoso sobrevivente de Belo Monte: o comerciante Antônio Vilanova, que naquele momento residia no município caririense de Assaré. O velho guerreiro, com viva lembrança das estratégias utilizadas na defesa do arraial, desenhou um plano certeiro: a construção de uma imensa vala em torno de Juazeiro do Norte, com nove quilômetros de extensão, oito metros de largura e cinco metros de profundidade. O “Círculo da Mãe de Deus”, como o Padim batizou aquela engenhosa trincheira, impediu que as tropas do governador Franco Rabelo invadissem a cidade, no episódio conhecido como Sedição de Juazeiro. Mas essa já é outra história...
O certo é que muitos episódios, histórias, romances e metáforas magistrais cabem em Belo Monte. Alegoria socioreligiosa capaz de esculpir obras de diferentes linguagens artísticas: do cinema de Glauber Rocha ao teatro de José Celso Martinez Correa, da literatura de Mario Varga Llosa à fotografia de Evandro Teixeira, da poesia de Patativa do Assaré às artes plásticas de Gildemar Sena. Belo Monte esculpiu Euclides da Cunha e sua obra vingadora, incluindo no cânone literário brasileiro um barroco grito de protesto, em que “a consciência da impunidade, do mesmo passo fortalecida pelo anonimato da culpa e pela cumplicidade tácita dos únicos que podiam reprimi-la, amalgamou-se a todos os rancores acumulados, e arrojou, armada até aos dentes, em cima da mísera sertaneja, a multidão criminosa e paga para matar”¹⁶.
Belo Monte continua sendo esculpido, especialmente por aqueles, como o professor José Calasans, que escutaram os sobreviventes e seus descendentes, mergulharam nas águas diáfanas das lembranças inundadas pelo Açude de Cocorobó, onde desde 1969 repousa a Canudos dos que voltaram depois do maior massacre da nossa história. Aqueles que também revisitam a experiência à luz dos desafios sempre atualizados pelo correr da vida, que embrulha tudo. “A vida é assim”, ensina Riobaldo: “esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem”¹⁷. Aqueles, enfim, que fazem da sua vida um permanente ato de fé e coragem, reacendendo a cada Romaria a chama imortal do ideal ardente que mantém viva a “Terra Santa do Beato Santo Antônio”¹⁸.
“O sol brilha com alegria, são 30 anos de Romaria”
Nem bem o sol havia nascido e o trio Chapolin parou em frente à casa paroquial de Canudos. O Padre José Alberto Gonçalves já estava à espera para embarcar e iniciar a primeira peregrinação do dia pelas ruas da cidade. Com sua voz de locutor e seu tom cerimonioso, assumiu o microfone do trio e, em alto e bom som, saiu convocando a população para a missa que seria celebrada às 6h. “Bom dia romeiros e romeiras, vamos acordando. O sol brilha com alegria, são 30 anos de Romaria”, dizia ele, intercalando os apelos com uma música cujo refrão expressava a simbologia do momento: “Eu também sou a imagem do guerreiro, sou filho de nordestino, da terra do Conselheiro”.
Filho de Uauá, cidade-irmã de Canudos, o Padre Alberto assumiu a paróquia de Santo Antônio há quatro anos e nove meses. Mas participa das Romarias de Canudos desde 1993, quando ainda era seminarista na Paraíba. “Estamos sempre em Romaria, em busca da promissão, da esperança, da dignidade, da terra livre. E nessas buscas paramos de vez em quando para celebrar”, afirmou, resumindo o sentido daquela peregrinação de fieis da causa conselheirista que desde 1987 é realizada às margens do Açude de Cocorobó em recordação ao martírio do povo de Belo Monte.
Longe de ser uma romaria como as de Juazeiro do Norte, que três vezes ao ano reúnem milhares de pessoas de todos os rincões do Nordeste, a peregrinação de Canudos tem atraído algumas dezenas de pesquisadores, professores, estudantes, militantes cristãos e de movimentos sociais, pastorais, cooperativas, associações, ONG\'S e comunidades eclesiais de base. “Pedagogicamente”, explica o Padre Alberto, “a Romaria de Juazeiro do Norte tem uma diferença da nossa, porque lá tem uma perspectiva do simbólico, da prosperidade, do milagre em si, e a nossa traz a tônica da reflexão e da celebração das experiências concretas de convivência com o semiárido”.
É o caso da Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá (Coopercuc), que esteve representada por sua presidente Denise Cardoso na mesa de abertura da Romaria, realizada na noite do último dia 21 de outubro, véspera da caminhada. Fundada em 2003 por um grupo de 44 agricultoras, hoje a entidade reúne 271 cooperadas/os e é pioneira em beneficiamento e comercialização de frutos nativos da caatinga, a partir dos princípios da economia solidária e do comércio justo. “A Coopercuc é resultado de uma proposta de convivência com o semiárido de geração de renda para a autonomia das mulheres. É uma história de desafios, em que a gente sobrevive todos os dias”, afirmou Denise.
Ao seu lado na mesa que discutiu o tema da 30ª Romaria: “Memória, caatinga e vida”, estava o diretor do Campus Avançado de Canudos da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Luiz Paulo Neiva. Desde 1986, a Uneb atua na salvaguarda da epopeia conselheirista. Atualmente mantém dois importantes equipamentos: o Parque Estadual de Canudos, uma área de 1.321 hectares que preserva o cenário das últimas batalhas, e o Memorial Antônio Conselheiro, que reúne museu, biblioteca e jardim temático. No dia 5 de outubro deste ano a Universidade inaugurou em Canudos o primeiro núcleo de robótica da Bahia e até o final do ano será lançada por lá a primeira Universidade Livre do estado.
Nada mais apropriado para uma cidade que está historicamente ligada ao nascedouro de “um modelo social de organização popular, do poder, da produção, da comercialização e da convivência humana”, como afirmou o Padre José Wilson Andrade, vigário da paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Feira de Santana-BA. Presidente do Instituto Popular Memorial de Canudos (IPMC), ONG responsável por salvaguardar a memória de Belo Monte e das Romarias, o Padre Wilson foi o terceiro componente da mesa de debate. Discorreu sobre o tema que lhe ocupa há quase 30 anos: “a história dos vencidos”.
Durante esse tempo, concluiu uma especialização, um mestrado e um doutorado sobre os aspectos religiosos e políticos de Belo Monte. Suas pesquisas relevam os princípios teológicos que guiavam as pregações de Antônio Conselheiro e se confundem com as do professor Pedro Vasconcellos, que este ano trouxe dos escombros do arraial os “Apontamentos dos preceitos da Divina Lei de Nosso Senhor Jesus Cristo, para a salvação dos homens”, ditados e escritos pelo Conselheiro em 1895. “Ele era muito culto para o seu tempo e reinterpretava livros do catolicismo popular, como a Missão Abreviada, as Práticas Mandamentais e as Horas Marianas, à luz das necessidades do povo”, lembrou o Padre Wilson.
Segundo ele, um dos novos campos de pesquisa sobre a história de Belo Monte é justamente o caráter teológico do arraial. É a nova oportunidade de “exumar o cadáver do homem que tremeu a jovem República”, como afirma Leandro Karmal no prefácio do livro “Arqueologia de um monumento: os apontamentos de Antônio Conselheiro”, de Pedro Vasconcellos¹⁹. “Pela primeira vez e de forma impactante, entramos na cabeça do homem santo de Canudos”, complementou Karmal. Algo que destoa do perfil delineado por Euclides da Cunha para o Conselheiro, enquadrando-o “no âmbito da loucura carismática e de expectativas escatológicas de teor milenarista”.
Foram 120 anos de desinformação. Nesse ínterim, apenas as prédicas e discursos de Antônio Conselheiro tinham sido publicados na década de 1970, por esforço do pesquisador Ataliba Nogueira. Escritas no último ano do arraial, em janeiro de 1897, as palavras do Conselheiro são as mais nítidas expressões de sua inteireza moral e intelectual e, de algum modo, um testamento legado à posteridade. O manuscrito finaliza em tom saudoso: “Adeus povo, adeus aves, adeus árvores, adeus campos, aceitai a minha despedida, que bem demonstra as gratas recordações que levo de vós, que jamais apagará da lembrança deste peregrino, que aspira ansiosamente a vossa salvação e o bem da Igreja. Praza aos céus que tão ardente desejo seja correspondido com aquela conversão sincera que tanto deve cativar o vosso afeto”²⁰.
Agora, o desafio é que esses e outros testamentos que revelam o Conselheiro professor primário, leitor ávido, intelectual e interlocutor de santos eruditos, como Agostinho, Jerônimo, Pedro Damião e Tomás de Aquino, sejam conhecidos pelo grande público e reconstituídos nos livros didáticos que abordam a história de Belo Monte/Canudos. Para a Irmã Verônica Ribeiro, que há mais de 30 anos iniciou os trabalhos de organização do povo canudense com outras missionárias da congregação do Sagrado Coração de Jesus, as novas revelações podem concretizar o sonho da canonização do líder religioso de Belo Monte. “O Papa Francisco acabou de canonizar os mártires católicos²¹. Antônio Conselheiro também foi um mártir, teve a cabeça decepada”, afirmou ela, que durante seus anos de peregrinação na década de 1980 foi ameaçada por fazendeiros da região “que não queriam que a gente falasse em fundo de pasto, reforma agrária, direitos humanos...”. Como para ser canonizado é necessário provar um milagre ocorrido por sua intercessão, perguntei à Irmã Verônica se já havia algum evento milagroso na conta do Conselheiro. Ela respondeu prontamente: “O milagre da resistência”.
É esse milagre que tem sustentado as três décadas de caminhada da conselheira tutelar Edileuza Ramos. Nascida no Trabubu, nas proximidades de uma das principais trincheiras conselheiristas, a Serra do Cambaio, ela esteve presente em todas as Romarias, sempre compondo a equipe de animação. Tem na ponta da língua um rosário de cantos religiosos e de significados profundos sobre a atualidade da experiência de Belo Monte: “Essa luta de Conselheiro não foi em vão, principalmente para nós canudenses que lutamos por dias melhores, pela igualdade e pela partilha”, afirmou.
Depois dos quatro quilômetros de percurso entre a praça da Capela do Cruzeiro²², onde foi celebrada a missa das 6h, e o Mirante do Conselheiro²³, ponto de encerramento da Romaria, o Padre Alberto já estava flamejante dos raios solares, que àquela altura brilhavam com nostalgia. Em sua sala de estar paroquial, aguardei que ele sentisse a brisa suave do dever cumprido para lançar a questão derradeira: “O que Belo Monte tem a nos ensinar hoje?”. A resposta veio como um sopro: “Em tempos de crise e perda de direitos, o grande ensinamento é manter viva a chama que fumega. Belo Monte nos ensina a valorizar os saberes do nosso povo e do nosso bioma caatinga, nos inspira a não deixar que roubem a nossa esperança, a nossa fé e a nossa capacidade de servir e de amar”.
Belo Monte, que se tornou um pavoroso rodamoinho de poeira e escombros, centrifugado pela cólera da República no século 19 e da Ditadura Militar no século 20, poderia ter tido o mesmo destino de Macondo e ser arrasado pelo vento e desterrado da memória dos homens e mulheres, na impossibilidade de se repetir tudo o que está escrito nos pergaminhos/testamentos do Melquíades/Conselheiro. Mas, com licença a García Márquez e ainda sentindo o aroma da Romaria, só me resta desejar profundamente: que as estirpes condenadas a cento e vinte anos de solidão tenham sempre oportunidades sobre a terra.
Notas
¹ Livremente inspirado no livro “Cem Anos de Solidão”, de Gabriel García Márquez;
² “Cem Anos de Solidão”;
³ “Calsans, um depoimento para a história”, de Marco Antonio Villa;
⁴ “Cem Anos de Solidão”;
⁵ “Canudos: a luta pela terra”, de Edmundo Moniz;
⁶ “Canudos: Cartas para o Barão”, de Consuelo Novais Sampaio;
⁷ “Belo Monte: uma história da guerra de Canudos”, de José Rivair Macedo e Mário Maestri;
⁸ Telegrama do juiz Arlindo Leoni para o governador Luís Viana;
⁹ “Antônio Conselheiro e Canudos”, de Ataliba Nogueira;
¹⁰ “No calor da hora: a guerra de canudos nos jornais, 4ª Expedição”, de Walnice Nogueira Galvão;
¹¹ “A Guerra do Fim do Mundo”, de Mario Vargas Llosa;
¹² Entrevista concedida por Mario Vargas Llosa a Ana María Moix;
¹³ “Cangaceiros e Fanáticos”, de Rui Facó;
¹⁴ “Universos em confronto: Canudos versus Belo Monte”, de Sérgio Guerra;
¹⁵ “Padre Cícero: poder, fé e guerra no sertão”, de Lira Neto;
¹⁶ “Os Sertões”, de Euclides da Cunha;
¹⁷ “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa;
¹⁸ “Ladainha pra Canudos”;
¹⁹ Os livros “Apontamentos dos preceitos da Divina Lei de Nosso Senhor Jesus Cristo, para a salvação dos homens” e “Arqueologia de um monumento: os apontamentos de Antônio Conselheiro” compõem a obra “Antônio Conselheiro por ele mesmo”, organizada pelo pesquisador Pedro Vasconcellos.
²⁰ “Antônio Conselheiro e Canudos”, de Ataliba Nogueira;
²¹ No último dia 15 de outubro, o Papa Francisco canonizou 30 mártires católicos que foram brutalmente assassinados no Rio Grande do Norte em 1645, durante a ocupação holandesa no Nordeste brasileiro.
²² A Capela do Cruzeiro abriga duas relíquias: o Cruzeiro da Igreja Velha de Belo Monte e a madeira que deveria ter sido entregue para a finalização da Igreja Nova do Bom Jesus;
²³ O Mirante do Conselheiro fica no topo de uma serra. Por lá, podem ser vistas a estátua de Antônio Conselheiro e uma panorâmica do Açude de Cocorobó.
Autor(a): Luis Osete